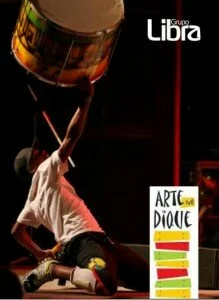Entre estatuetas e divas, a drenagem linfática

Exibição ao vivo
Sempre adorei o ritual de ir ao cinema. Desde a primeira vez que vi sozinho um filme, “Superman 3”, aos 10 anos, no antigo Cine Iporanga, entendo o cerimonial pré-sessão como essencial para o espetáculo. Uma espécie de trailer protagonizado pelo espectador. Chocolates, garrafa d’água, copo de refrigerante, os trailers tradicionais, as recomendações de segurança e as saídas de emergência, o silêncio programado, que inclui os celulares emudecidos, tudo é parte do enredo a ser vivido.
Passei nos últimos meses por duas experiências em que este ritual quase precisou de legendas, por conta de mudanças no cenário, mas ainda assim prevaleceram os passos previsíveis de um preâmbulo repetido. O que mudou foi o conteúdo da tela branca. E confesso que me surpreendi com a reação das arquibancadas; perdão, das poltronas acolchoadas.
O primeiro ato foi assistir – e cobrir, como jornalista – a final da Copa dos Campeões da Europa. Nem precisei acionar o passaporte comunitário. Assisti à vitória do Chelsea, nos pênaltis, contra o Bayern de Munique com casa cheia.
Torcedores dos dois lados conviveram de maneira pacífica numa das salas do Cine Roxy. Os mais jovens, que defenderam por vezes o time inglês em muitos campeonatos de videogame, eram Chelsea desde sempre. Entre os mais velhos, o saudosismo de antigos ídolos do futebol alemão, muitos da época em que a TV Cultura transmitia as partidas da Bundesliga aos sábados pela manhã.
No entanto, a vivência mais divertida foi acompanhar a festa do Oscar no cinema. Pode parecer redundante, mas ver a premiação numa sala onde muitos dos concorrentes são exibidos é completamente diferente de testemunhar via televisão na sala.
De fato, somente a presença de dois mestres de cerimônia – Gustavo Klein e Waldemar Lopes – e de 300 pessoas na platéia para suportar quatro horas de piadas sem graça do apresentador, discursos repetitivos dos premiados e certas cafonices tradicionais do evento. Não há meio termo: ou você insiste ou você desiste. Não existe controle remoto – ou melhor – controle algum sobre o que se passa a sua frente.
Klein e Lopes se completavam na condução de sorteios e de informações extras sobre os concorrentes ao longo dos intervalos comerciais da transmissão. Melhores do que qualquer zapping frenético, ambos seguraram a plateia nas cadeiras e, às vezes, involuntariamente, aguçavam o público, que reagia com respostas nada politicamente corretas, ao contrário de muitos momentos da cerimônia norte-americana.
Em um dos sorteios, o felizardo levaria para casa uma drenagem linfática. Deveria ser uma sortuda, mas não é que ganhou um sujeito. Ele desceu os degraus envergonhado. Waldemar Lopes ainda ponderou que o ganhador poderia presentear a namorada. Até que veio o grito lá de cima, daqueles que nasceram para preencher o pequeno intervalo de silêncio:
— Drenagem linfática para homem? Só se for no saco!
Um sujeito ao meu lado gargalhou o resto do intervalo comercial. Nem o apresentador do Oscar – ou seu urso Ted – talvez pensasse em algo tão automático quanto grosseiro.
O Oscar, marcado pela consagração dos roteiristas, também teve várias apresentações de reconhecidas vozes femininas. De Adele a Catherine Zeta-Jones, todas eram recebidas pela anônima voz que brotava na última fila.
— Divaaaaa!!!
Ao subir ao palco para receber o prêmio de melhor roteiro original, Quentin Tarantino quase ouviu o grito, desta vez adaptado pelo mesmo ator:
— Divooooo!!!
Assistir ao Oscar no cinema é como acompanhar Chelsea e Bayern, em várias finais. Nas poltronas, torcedores de vários filmes, com aplausos e vaias para craques e pernas-de-pau, conforme o nível de paixão (ou repulsa) pelo ator, atriz, diretor, ou película preferida. Os Miseráveis viraram favoritos, até para aqueles que aderiram ao fã-clube improvisado (e obrigatório) de Hugh Jackman, temendo a sonora vaia da torcida organizada que parecia filha da revolução, ainda que francesa.
Deixei a sala às duas e meia da manhã, satisfeito com a noite de cinema. Nunca havia visto uma festa do Oscar inteira. Permanece chata, arrastada e previsível. Mas há tempos não me divertia tanto numa sala de cinema. A vitória de “Argo”, confesso, fez figuração diante das quatro horas de bom humor, proporcionadas por um elenco de 300 pessoas com mediação, mas sem qualquer script.